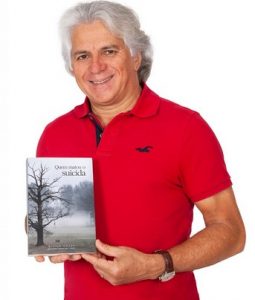Cento e sessenta quilômetros de solidão, sol, chuva, dores e medo… em busca de paz!

(Imagem ilustrativa)
O homem alto, forte, de meia idade, estava caminhando há pouco mais de quatro horas, sem parar. O sol de meados de primavera castigava as costas, os cabelos por baixo do boné… Os pés pareciam arder em fogo. As pernas agradeceriam se parassem de se mover e esticassem, de preferência com os pés para cima. Já havia experimentado vários tipos de pisos na caminhada. Nos primeiros dez ou doze quilômetros pisara no asfalto morno e duro, porém plano. Outros dez quilômetros andara no cascalho duro, irregular, às vezes escorregadio… Às vezes pisava sem querer em uma saliência ou protuberância da estrada cascalhada e sentia o pedregulho penetrar na sola do pé como se estivesse descalço! Agora andava por uma estradinha vicinal de terra arenosa, macia, desviando das poças d’água ou do barro… – Havia chovido a noite toda e naquele trecho plano de estrada deserta a água ainda não havia secado. Tinha que dosar as energias pois a caminhada estava apenas no começo… e já sentia o cansaço. Precisava parar. Mas não adiantaria parar debaixo do sol escaldante da manhã, sem um local onde pudesse ao menos sentar-se. De repente, além da curva, surgiu uma capelinha na beira da estrada. Aprumou o corpo e firmou o passo. O sol já ia alto, ainda assim a torre da capelinha propiciava uma aconchegante sombra. Sentou-se na sombra. Retirou o tênis, as meias. Afagou os pés. Que alívio! Suas mãos nunca foram tão macias! Usou a mochila que levava nas costas como travesseiro e estendeu o corpo no cimento rústico da porta da capelinha. Mudou de ideia, inverteu… colocou a mochila debaixo das panturrilhas!… assim poderia manter os pés acima do nível do corpo. Saboreou o prazer de descansar as pernas, os pés, o corpo suado e dolorido, mesmo no cimento duro da porta da igreja. Ironia ou coincidência: À caminho do Santuário de Aparecida, a primeira parada do peregrino para descansar e refletir, foi justamente na sombra mansa e acolhedora de uma capelinha! O destino estava longe dali, muito longe. Não precisava e nem podia correr. Podia descansar uns quinze ou vinte minutos. Fechou os olhos e olhou para trás, para o caminho que percorrera até chegar ali.
O peregrino solitário fora muitas vezes à ‘Casa da Mãezinha’. De carro ou de ônibus, em romaria. Mas a pé era a primeira vez. Sozinho era a primeira vez. Sempre quisera fazer essa caminhada. Conhecia amigos que faziam, mas a oportunidade nunca chegava. Agora chegou. E chegou como necessidade. Precisava ir à Aparecida… precisava buscar algumas respostas! Passara o dia inteiro anterior pensando naquela viagem… até que decidiu pegar a estrada. As cinco da tarde entrou no gabinete do chefe e disse que precisaria se ausentar do trabalho por três ou quatro dias… Precisava fazer essa viagem. Sairia nessa mesma noite. O pedido foi tão contundente que o chefe nem objetou! Simplesmente disse: “pode ir”. Descontaria aqueles dias de ausência nas férias seguintes. Saiu do gabinete, pegou o carro, foi até um bambuzeiro na beira da estrada na entrada do Cajuru e cortou um bambu de cana-da-índia. Aquele pequeno cajado verde seria sua arma e sua única companhia na viagem! Foi para casa e preparou a mochila: um par de chinelos, três mudas de roupas, um lanche para o primeiro trecho, uma garrafa d’água, alimentou o espírito e esperou a hora da partida. Sairia às dez da noite… Ouvira dizer que os romeiros caminhavam quase sempre à noite e descansavam durante o dia. Às oito da noite São Pedro abriu as torneiras… e esqueceu de fechar! Às dez horas chovia forte em toda a cidade. Mudança de plano. “Vou esperar a chuva passar e saio à meia noite”, pensou. À meia noite a chuva continuava a cair, intensa. “E agora?”, perguntou-se. O bom senso sugeriu adiar. Foi dormir… mas manteve acordada a decisão de fazer a viagem. As seis da manhã em ponto fechou o portão de casa atrás de si e pegou a estrada. Ainda chovia fino, mas eram as primeiras “chuvas de verão”… não durariam muito. Atravessou decidido a cidade, entrou na estrada cascalhada em direção à Cachoeira de Minas e seguiu resoluto em frente. Naquele momento da vida tinha muitas perguntas a fazer… Precisava de respostas!
A primeira resposta ‘chegou à cavalo’… Na verdade chegou puxada por um cavalo! Os leves solavancos dos latões de leite vazios sobre a carroça puxada por um cavalo tordilho passando defronte a capelinha despertaram o peregrino. Sucumbido às poucas horas dormidas durante a noite e ao cansaço da caminhada de pouco mais de vinte quilômetros, o peregrino havia dormido no chão duro da porta da capelinha. Pouco mais de quinze minutos haviam se passado. Despertou sem susto com o breve rumor da carroça. Apesar do pequeno cochilo, acordou ligeiramente renovado! Espreguiçou-se, calçou as meias, o tênis, levantou-se, tomou mais um gole de água, jogou a mochila nas costas e retomou a longa caminhada pela estradinha estreita e deserta. Logo adiante chegou ao pé de um morro que parecia não ter fim. “Parece tão longo e íngreme… será que leva ao céu?”, pensou. Chegou ofegante ao topo. De lá avistou as fraldas de Conceição dos Ouros. Apesar de ser morro abaixo, os santos não ajudaram. A descida foi lenta e cautelosa… quase interminável!
Um homem caminhando, ainda que sozinho e numa hora impropria, com uma mochila nas costas e um cajado na mão, não precisa de palavras para dizer aonde está indo! Sua figura já diz o seu destino. Na entrada da cidade dois homens que trabalhavam numa obra aprumaram o corpo para saudar o peregrino.
– “… indo para Aparecida?”, perguntou o pedreiro.
A um aceno do homem de boné, mochila e cajado, o servente emendou:
– “Nossa Senhora te acompanhe!”
Poucos metros adiante, numa esquina, uma singela padaria. Comeu seu salgado predileto: coxinha! trocou a garrafinha d’água vazia por uma cheia e seguiu viagem. Cortou o centro da cidade. Olhou para a igreja de N.S. da Conceição, de portas fechadas, e sem parar fez uma breve prece silenciosa. Poucos minutos depois passou pelos quebra-molas do outro lado da cidade e se viu novamente sozinho da estrada quase deserta. Eram quase duas da tarde quando entrou na lanchonete Peixe-boi… Não tinha fome, mas tinha muita sede. Não tinha pressa, mas não queria perder tempo. Dentre tantas lembranças, pessoas, fatos, imagens que desfilavam na sua mente, sempre surgia a imponente basílica… as vezes deserta como já vira algumas vezes, às vezes lotada, de um jeito ou de outro carregada de energias, de sonhos, de santidade… As vezes a basílica parecia tão distante, às vezes tão próxima! Se fechasse os olhos e tornasse a abri-los parecia que no próximo passo já pisaria nos seus degraus. Precisava chegar ali… Seu espírito não descansaria enquanto não subisse aqueles degraus, enquanto não pousasse seus olhos marejados na imagem da Santa!
O calor causticante do meio da tarde de outubro judiava. Os pés pegavam fogo. Algumas bolhas nos dedos já haviam estourado. As virilhas dentro da calça folgada de moletom ardiam… Faltavam cerca de cinco quilômetros para chegar à Paraisópolis, menos de um terço da caminhada. Antes de começar a última subida parou para recompor as energias. Deitou-se na grama verde e tenra na sombra dos ciprestes… apoiou as pernas na mochila… no minuto seguinte estava dormindo. A proximidade da pista, a um metro do acostamento, não permitiu um sono sereno como o da porta da capelinha deserta. Despertou dez minutos depois com a buzina de um caminhão. Retomou a caminhada. Subiu o morro e desceu já no perímetro urbano de “Ventania”. Apesar do cansaço, dos calos e assaduras, estava bem-disposto e decidido a caminhar. Fechando os olhos se via dobrando a serra a sessenta quilômetros dali, descendo a serra, virando no trevo de Pinda… Dali por diante seria caminho desconhecido. Mas era o caminho que o levaria ao seu destino. Apesar das dores do corpo, sentia-se animado para aliviar as dores da alma. Olhou no relógio. O sol de outubro reluzia baixo por entre os galhos dos eucaliptos na beira da estrada… faltavam alguns minutos para cinco da tarde. Havia planejado dormir umas horas em Paraisópolis. Mudou de ideia.
– “Ainda está cedo. Vou passar reto… vou seguir até São Bento… Consigo chegar lá pouco depois das oito da noite, assim fico perto da metade do caminho”, pensou o peregrino. E começou a fazer as intermináveis curvas que antecedem Paraíso até que… sentiu uma leve vertigem!
– “Deve ser o cansaço e o sono”, concluiu o peregrino piscando com energia os olhos e sacudindo a cabeça.
Continuou a caminhada solitária. Alguns metros adiante uma cortina negra e disforme desfilou na sua frente… Abriu bem os olhos… as curvas da estrada e os carros se misturaram… o chão sumiu!… O alambrado de uma casa na beira da pista evitou que ele se estatelasse no chão. Sentiu que ia desmaiar. Sentou-se ali mesmo. Estendeu o corpo no cimento morno da calçada ao lado de um portão. Dessa vez usou o alambrado para apoiar os pés e manter as pernas para cima, e a mochila como travesseiro. Só então se lembrou de que a última coisa sólida que havia mastigado fora uma coxinha na padaria de esquina em Conceição dos Ouros, no final da manhã. Enquanto pensava no ‘descuido’, uma senhorinha, moradora da casa em frente, a qual vira a inusitada cena, chegou indagando e oferecendo ajuda.
– “Estou caminhando desde cedo quase sem parar… deve ser o cansaço”, explicou o peregrino, ainda de costas com as pernas apoiadas no alambrado. “Mas aceito um copo d’água”, completou.
O segundo salgado do dia deglutiu duzentos metros adiante, na pequena padaria depois da curva da igreja, antes do posto do Pituta. Recuperou parte das energias, mas refez os planos. Aliás, voltou ao plano original. Às seis da tarde entrou no hotel Central na praça de Paraisópolis. Precisava chegar ao seu destino, mas para isso precisava descansar para repor as energias. Tinha que dormir! E dormiu mesmo, antes da hora. Mal entrou no quartinho simples lá no fundo, longe da rua, colocou a mochila sobre uma cadeira, retirou o tênis e a meia, soltou o corpo fatigado sobre a cama e… apagou! Acordou duas horas depois, sacudido por pernilongos que entravam pela janela aberta!
Depois de um demorado e lento banho, atravessou a praça São José e foi jantar no restaurante do outro lado. Eram oito e meia da noite. Foi sua primeira refeição do dia. De volta ao velho hotel pediu ao septuagenário recepcionista, magrinho e grisalho, para acordá-lo à meia noite. Saciada a fome do corpo, faltava agora saciar a fome da alma. Isso, no entanto não o impediu de dormir. Estendido de costas na singela cama sem desfazer, com as pernas e os braços abertos, não precisou da ajuda dos ‘carneirinhos’… antes mesmo de terminar o tete-a-tete com a Mãezinha, já estava nos braços de Morfeu!
Não ouviu as doze badaladas do sino da matriz de São João a poucos metros do hotel. Mas despertou com o ritmado ‘toc toc toc’ na porta do quarto. O recepcionista de cabelos lisos e escorridos foi tão pontual quanto Alfred ou o Big Ben numa noite de inverno. Antes de o ponteiro escorregar para meia noite e um, ele estava batendo à porta. Vestir e se preparar para sair foi fácil e rápido. Bastou vestir uma camiseta limpa, a calça de moletom surrada, calçar o tênis e jogar a mochila nas costas. Ao calçar o tênis sentiu que o pé direito estava ligeiramente apertado. Só então percebeu que o tornozelo estava começando a inchar. Isso, no entanto não o impediria de retomar a caminhada rumo à Aparecida. Comeu metade de um pão da tarde, uma chávena de café e dirigiu-se à portaria. O recepcionista magrinho e calado cochilava num sofá velho diante de uma tv sonolenta. Saiu à porta. Antes de pôr os pés na rua olhou à sua volta. Dois ou três cachorros de rua cochilavam no jardim próximo aos trailers de lanches. Lá no fundo, um quarteirão depois da igreja, dois homens e uma moto parada. Um montado nela, o outro ao lado. Pareciam estar conspirando contra ele. Era por ali que ele teria que passar. Sentiu medo. A cidade estava deserta. Um vento suave sacudia levemente as arvores sombrias do jardim. Parecia uma cidade fantasma! Pela primeira vez na viagem sentiu medo. Observou o corpo… os pés estavam doloridos… as juntas das pernas doíam aos primeiros movimentos… as virilhas, embora arranhadas, não reclamavam desde que não fossem tocadas. Teve dúvidas se deveria continuar. Sabia que não desistiria da viagem… tinha de fazê-la, mas talvez devesse esperar o amanhecer! Estacado na porta do hotel, pensou… pensou, pensou, tornou a olhar para a direção dos rapazes da moto. Ainda estavam lá. Parecia que o estavam esperando… Repensou. Voltou para o quarto. Tirou apenas a mochila e deitou-se de costas na cama. Desta vez não adormeceu. Pensava nos motivos que o trouxera até ali. Nos motivos que o levariam até a casa da Mãezinha. Precisava continuar. Precisava buscar respostas. Além do mais, desistir seria uma derrota, um fracasso … não poderia olhar para si. Levantou-se. Andou pelo minúsculo e singelo quartinho. Havia caminhado menos de cinquenta quilômetros… Teria que caminhar ainda mais de cem! Agora, além das dores do corpo teria que enfrentar também as dores do medo, da incerteza, da serra fria e deserta durante toda a madrugada. Orou e pediu luz… pediu luz para a Mãezinha. Afinal, era para ‘vê-la’ de perto, para conversar ‘pessoalmente’ com ela que estava caminhando! Decidiu. Colocou a mochila nas costas e foi para porta novamente. A tv da recepção estava em silencio. A poltrona do velhinho magricela estava vazia. Abriu a porta e tornou a perscrutar a praça da matriz. A moto e os dois homens não estavam mais lá atrás da igreja. Só os cães de rua cochilavam em rosquinha na beira do jardim. Era uma hora da manhã. Puxou a porta atrás de si e reiniciou a caminhada. Resoluto, mas lento, pois as juntas da cintura para baixo precisariam de alguns minutos para aquecer e desatar.
Os primeiros minutos de caminhada renderam. Como não tinha com quem dividir o espaço da longa rua de traçado e piso irregular da centenária cidade, o peregrino podia andar pelo meio da rua, onde o piso maltratava menos a planta dos pés. Assim, debaixo das luzes amarelas e bucólicas da madrugada, ele chegou rapidamente à saída da cidade. A partir do trevo, seriam apenas ele, seus medos, e as sombras da madrugada. Para testar sua coragem o vento, muito comum naquele trecho nas escarpas da serra da Mantiqueira, resolveu sacudir a ponta dos ciprestes na beira da estrada. Nada que uma Ave Maria não pudesse resolver…
Apesar de ser início de outubro… e de primavera, a madrugada estava fria, escura e silenciosa. Podia-se ouvir o farfalhar das folhas das arvores com o balanço do vento, o coaxar de um sapo num brejo qualquer e até a sinfonia dos grilos na beira da estrada. De vez em quando a escuridão era inundada pelos faróis de um carro que passava rompendo também o silencio. Foi num desses momentos que a coragem e a fé do peregrino foram colocadas à prova. Acompanhando as luzes vermelhas de um carro que passava, a poucos metros à sua frente o peregrino avistou um vulto na beira da estrada. Podia ser um toco de arvore, uma pedra ou até mesmo um arbusto… mas o vulto tinha olhos! Olhos que brilharam por alguns segundos diante dos faróis do carro, que logo sumiu na curva deixando um breu atrás de si. Suspense! Apreensão! Medo! O peregrino solitário estacou!
– “E agora? O que será aquilo? É um animal, com certeza! Um cavalo, uma vaca? Não. É muito pequeno para ser um inofensivo cavalo ou uma fugidia vaca em busca de capim fresco. Um cachorro, uma paca, um tatu, um ouriço? Não. É muito grande para ser um bicho desses. Mas então que bicho será? Uma onça? Um lobo?”, perguntou a si mesmo o peregrino, conferindo o tamanho e o peso do cajado de bambu verde que levava. Contra um cachorro de pequeno porte o cajadinho seria útil… No entanto, contra garras e dentes afiados de uma onça parda ou um lobo, o porretinho não faria nem cócegas!
Estacado na beira da estrada a poucos metros do vulto de olhos brilhantes, o peregrino viveu seu pior momento da caminhada solitária. Por alguns instantes esqueceu as dores nas pernas, as dores nas virilhas, as dores nas juntas das pernas, o cansaço… esqueceu até os motivos que o colocaram na estrada. Nada disso teria importância se tivesse que lutar com uma onça parda usando apenas um cajadinho de bambu verde de pouco mais de um metro. Tinha uma segunda opção… voltar de fasto, lentamente, até sumir na curva, torcendo para o bicho não tivesse sentido seu cheiro, e voltar para Paraisópolis! Descartou imediatamente a opção! Não viera até ali para desistir! Além do mais, podia ser mesmo apenas uma pedra grande desgarrada do barranco acima da estrada. E os olhos brilhantes? Poderiam ter sido colocados ali na pedra pelo cansaço, pelo medo, pela insegurança… pela falta de fé!
– “É isso mesmo! Onde está minha fé? Minha confiança na proteção divina! Que tipo de peregrino sou eu que tem medo de uma suposta oncinha na beira da estrada”, perguntou a si mesmo o peregrino, apertando com força a medalhinha prateada que levava pendente do cordão de ouro junto ao peito. Retirou a medalhinha de dentro da camiseta suada, levou aos lábios, deu-lhe um beijo, apertou firme, tornou a guardá-la, chamou todos os anjos de plantão e seguiu em frente.
A curta conversa silenciosa com a Mãezinha no meio da madrugada não passou de um monólogo… não teve resposta. Mas o peregrino sentiu confiança. Até porque, não tinha opção. Mas tomou algumas cautelas. Até então caminhava – erradamente – à direita da estrada. A partir desse momento, atravessou a pista e seguiu pela esquerda, assim passaria a dez metros mais longe do inimigo. Parou de apoiar o cajado no chão ou de brandi-lo, e retomou a caminhada solitária, resoluto, tentando parecer invisível. À medida que se aproximava do vulto, mais se encolhia! Parecia que todo seu corpo se resumia a seu coração… o qual tentava saltar do peito! Os poucos mais de cem metros que o separavam do vulto foram percorridos em menos de três minutos, mas pareceram uma eternidade! Nesse ínterim, desde que o último carro passara inundando a estrada de claridade, os olhos foram se acostumando com a escuridão da madrugada. Ainda assim não era possível distinguir o vulto feroz. E o vulto continuava lá, indefinido, sem brilho, amedrontador … imóvel! Alguns metros depois da passagem incólume pelo ‘felino’, com o coração batendo ainda a cento e vinte por minuto, surgiu na curva o clarão dos faróis de um carro. Sem parar de caminhar o peregrino ficou olhando para trás, na tentativa de identificar o perigo do qual escapara. Quando o carro passou por ele o peregrino conseguiu, enfim, distingui-lo. O ‘vulto da madrugada’ era uma… vaca malhada! A pacata ruminante com certeza havia se empanturrado de capim tenro na beira da estrada e resolvera se deitar ali mesmo, para ruminar… e assustar peregrinos solitários!
O alívio deu novas energias ao peregrino. Mesmo cansado e cheio de perrengues, ele apertou o passo. Duas horas depois avistou as primeiras luzes de São Bento do Sapucaí. Ao se aproximar do primeiro pontilhão de acesso à cidade da Pedra do Bau, foi surpreendido por uma algazarra… de pássaros! Eram garças. Numa restinga de Pinus à direita do pontilhão havia centenas delas dormindo. Passava pouco de cinco da manhã. A algazarra das garças era porque o céu, ainda cinza e carrancudo, dava os primeiros sinais do novo dia! Era hora de alçar novos voos e procurar comida nas margens do rio Sapucaí Mirim. Do acesso norte até a entrada principal de São Bento são pouco mais de mil e quinhentos metros. No entanto, quando o peregrino chegou ali, o dia já havia mostrado suas cores. Cores turvas, cores que prenunciavam chuva. Naquele trecho de serra seria uma manhã ao menos emburrada! Foi ali na entrada da cidade, na grama esmeralda verde e fofa que o peregrino jogou seu corpo. Era a cama ideal. Até porque, com o medo do ‘vulto da madrugada’ e os dezessete quilômetros que separam o Hotel Central de Paraisópolis dali, ele havia esgotado todas suas forças. Teria que tirar os pés do chão por alguns minutos… ou então pegar o Mercedes da Gardênia e voltar para casa. Dormiu na grama úmida pelo sereno. Dormiu estendido de costas cerca de quinze minutos. E não dormiu mais porque o corpo esfriou… e no bonito canteiro de grama do trevo de São Bento do Sapucaí, embora macio, não havia cobertores!
Parou, deitou, descansou, dormiu e… se arrependeu! Não era apenas a temperatura da serra que baixara. O corpo havia esfriado. Ao se levantar para retomar a caminhada o peregrino se deu conta de que estava travado! A vontade, o propósito o impulsionava para frente… mas as pernas não obedeciam. E se obedeciam, reclamavam. Reclamavam muito. Doíam desde a ponta do pé até as juntas do quadril. Doía o corpo todo. O lado direito um pouco mais. Só não doía o coração… Só não fraquejava a vontade de chegar à Basílica. E o peregrino seguiu… apoiado no seu cajado de cana da índia cortado no final da tarde de segunda-feira, na entrada do Cajuru, há oitenta quilômetros dali. De um trevo ao outro de São Bento, cerca de um quilometro, o peregrino não andou… arrastou-se à margem da via, com as pernas abertas, até o corpo se aquecer. Estava ficando cada vez mais difícil… e era só metade do caminho! À medida em que foi se aquecendo as pernas foram desatando. O movimento de pessoas chegando à cidade ou saindo dela para trabalhar ou simplesmente cruzando a estrada, o chilrear dos pássaros, o cacarejo de galinhas e o mugido do gado nas proximidades da estrada ajudaram a distrair o peregrino. Quando se deu conta, a cidade e uma extensa e leve subida haviam ficado para trás. Ainda no município de São Bento parou novamente para dar novo descanso às pernas. Deitou-se com as pernas suspensas e acabou cochilando por cerca de cinco minutos. Sua cama desta vez foi uma gigantesca pedra plana à margem esquerda da estrada ao pé de um barranco. Teve o cuidado de não parar muito tempo para não esfriar demais o corpo, mesmo que o descanso não fosse satisfatório. No futuro passaria por ali dezenas de vezes e se lembraria deste fato. A partir de então o ritmo da caminhada tornou-se mais lento… e sonolento! Em determinado trecho da estrada se pegou dormindo. Estava descendo um leve declive próximo ao Posto Barracão quando uma buzina zuniu nos seus ouvidos. Despertou a tempo de ver um caminhão baú passar muito perto. Olhou para a frente e não viu mais o posto. Olhou para trás e lá estava ele… Constatou então que havia caminhado mais de cem metros dormindo. E era uma curva! O susto afugentou o sono. Poucos metros adiante retornou ao Estado de Minas e cruzou a velha Sapucaí Mirim cercada de serras, onde tomou café da manhã. Estava num dos trechos mais bonitos da viagem, cercado de matas por todo lado e alguns riachos que desaguavam no infante Rio Sapucaí Mirim. Apesar de belo, fresco e romântico, o trecho era também o mais perigoso! A estrada é estreita, cheia de curvas e sem acostamento! Quando sentou-se diante da tv para assistir ao seu programa esportivo favorito – que começa às 12:40h – no primeiro restaurante que avistou em Santo Antônio do Pinhal, o apresentador já estava se despedindo. Completamente ignorante das necessidades nutricionais de situações como essa, comeu macarronada, o que deixou a caminhada inicialmente ainda mais lenta. Demorou bem mais de uma hora para romper os quatro quilômetros serra acima até a Estação Lefreve. O sol escaldante de outubro, que o acompanhara durante a leve subida, deu uma trégua… e o peregrino solitário jogou seu corpo cansado aos pés da gigante imagem de N.S. Auxiliadora. Sob a proteção da santa que, emoldurada na cor da pureza contempla o imponente Vale do Paraíba, peregrino solitário mais uma vez se entregou às caricias de Morfeu.
“Pra descer todo santo ajuda”. Ainda bem que o velho ditado é verdadeiro, pois o peregrino solitário precisaria de ajuda. Apesar de estar devidamente alimentado e parcialmente descansado, as dores do corpo haviam aumentado. As virilhas ardiam e provocavam careta cada vez que uma perna tocava na outra. Os calos nos dedos e plantas dos pés também ardiam. O tornozelo direito parecia dois. O pé direito quase não entrava mais no tênis… Os oito quilômetros de serra abaixo em intermináveis curvas precisaram de mais de duas horas para serem arrastados. Passava de cinco da tarde quando o peregrino sentou-se na varanda do posto da PRE, a poucos metros do trevo de Pinda. O céu estava turvo. O tempo prometia chuva. A partir dali seria caminho desconhecido. Todas as vezes que descera a serra até então, seguira direto para Tremembé ou Taubaté. No entanto sabia, por mapa, que a estrada à esquerda o levaria ao seu destino. Só não sabia quantos passos ainda teria que dar. O primeiro foi perguntar ao soldado na ponta da varanda, embora a resposta não interferisse na sua obstinação.
– “Sabe a distância daqui à Aparecida?” – perguntou.
Encostado na coluna no canto da varanda do posto policial, o soldado jovem, alto, dentro de uma farda chumbo muito justa realçando o corpo atlético, demorou mais de dez segundos para desviar o olhar do celular e olhar para ele. Olhou, mas nada disse. Voltou os olhos para o celular e continuou mudo por mais alguns segundos até que…
– “Daqui a dez minutos passa aqui um ônibus que vai para Aparecida”! – disse finalmente o policial, com indiferença e desdém. E continuou a viajar no celular.
Agora foi o peregrino que demorou alguns segundos para processar a resposta. Sentiu um ligeiro calor subir ao rosto. Teve um breve ímpeto de responder à altura do pouco caso do policial, ou ao menos algo do tipo:
– “Eu gosto de caminhar! Só queria saber a distancia…”.
O ímpeto, no entanto, durou um segundo ou dois. O peregrino solitário já estava entrando naquela idade em que dá prazer ouvir o silencio falar por mil palavras. Naquela idade em que é prazeroso ver a pessoa mastigar e engolir sozinha a própria arrogância. Além do mais, nada do que dissesse ou ouvisse do jovem e arrogante policial iria somar alguma coisa à conjuntura. Nada iria estreitar aquela empatia natimorta. Fechou o olhar no teto da varanda e olhou para a imponente Basílica de tijolos à vista que o esperava no dia seguinte. Chegaria lá de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, sem precisar da informação do agente da lei. Ao sentir um leve torpor, sentou-se. Não queria dormir um minuto sequer ali no posto policial. Corria o risco de ser enxotado. Levantou-se e retomou a caminhada, lentamente, com as pernas abertas, parecendo um sapo atropelado, sob o olhar confuso do policial que permanecia encostado na coluna do posto com o celular na mão. Minutos depois virou à esquerda no trevo, deixou a movimentada estrada que descia de Campos do Jordão e seguiu pela estradinha estreita e deserta, desconhecida. Raspava seis da tarde de início de primavera, mas o céu estava da cor da farda do policial… mais escuro que do que sua educação.
Na sua cidade o peregrino conhecia um grupo de romeiros que todo ano fazia aquele trajeto. Sabia, portanto, que naquele trecho, entre o pé da serra e a cidade de Pinda, na baixada, havia uma pousada defronte uma igrejinha. Pretendia parar ali para refazer as energias. O ponteiro da hora se aproximava do número oito no relógio quando avistou as primeiras luzes da pequena vila. Pelo que contavam os romeiros seus conterrâneos, era ali a pousada. Bem na hora. A chuva, que desde as cinco da tarde prometia cair, finalmente cumpriu a promessa, mas felizmente caiu à prestação. Permitiu que o peregrino chegasse à pousada.
A “Pousada dos Romeiros”, no bairro Bom Sucesso, em frente a igrejinha de Santa Rita, é só um arremedo de pousada. A pequena e simplória casa composta de uma sala, dois banheiros com chuveiros e vários quartos pequenos, cercada de alambrado na beira da estrada, pelada por dentro e por fora, é só isso mesmo, mais nada, ou quase. Na sala tem um sofá velho com a napa rasgada e o estofado furado! É o quanto basta. O romeiro que levar colchão e cansaço poderá dormir abrigado do vento ou da chuva. Comida e bebida têm no botequinho do outro lado da rua. Na porta da velha pousada o romeiro que chega encontra um aviso: “A chave fica no bar em frente”. Foi lá que, em meio à balburdia de torcedores que assistiam um jogo de futebol do campeonato brasileiro, o peregrino solitário jantou pão com mortadela, pagou adiantado os cinco reais pela “diária”, pegou a chave e foi dormir. Antes de pegar no sono teve que travar duas batalhas: uma com os ratos que dormiam no estofado furado do sofá e outra com os pernilongos que desceram das paredes em busca de sangue doce e fresco. Expulsou todos eles. Os ratos, covardes por natureza, não voltaram. Já os pernilongos, inteligentes e dissimulados, se esquivavam dos tapas e se afastavam, mas voltavam de mansinho, uns em silencio e outros, por vingança, tocando pagode nos seus ouvidos. Para dormir precisou cobrir a cabeça. Teve a seu favor dois grandes aliados: o cansaço de dezenove horas de caminhada desde a praça São José em Paraisópolis e a chuva que batia suavemente no telhado sem forro da velha pousada. Tão logo o peregrino se recolheu depois da ‘lauta’ refeição de pão com mortadela no barzinho, São Pedro abriu de vez as comportas.
À meia noite em ponto o peregrino solitário foi sacudido pelo silencio da noite. Acordou lentamente, calmamente, ligeiramente desnorteado… Demorou para perceber se de fato estava acordado ou se estava sonhando… se estava vivo! Sim, havia acordado e estava vivo. A madeira dura e seca do sofá velho espremendo seu quadril disse exatamente onde ele estava. Consultou o relógio… Meia noite. Havia parado de chover. Silencio total no botequinho em frente a pousada. Era o momento de recomeçar a caminhada. Foi rápido… não precisou refazer a cama e nem arrumar a mala. Bastou jogar a mochila nas costas, apagar a luz e fechar a porta. A chave ficou do lado de dentro da fechadura. No minuto seguinte já estava na estrada. Fez o sinal da cruz, pediu proteção à Santa Rita defronte sua igrejinha e saiu caminhando, lentamente, com as pernas afastadas uma da outra, apoiado no pequeno cajado de bambu. À medida que foi se afastando da pequena vila marginal da estrada, as casas foram raleando. Mesmo assim, ao longo de quase todo o percurso dali até a cidade havia casas… e seus vigias. Fiéis vigias, desconfiados vigias, valentes vigias, barulhentos vigias. Todos avisando que estavam atentos, e ameaçando morder suas canelas – ou panturrilhas – se ele se aproximasse. Nunca o peregrino havia ouvido tanto latido de cachorro. Os mais estridentes e valentes não se contentavam em latir intramuros… saiam à estrada para impor seu território. Em um poste ao lado do cruzamento da linha férrea havia uma plaquinha com os dizeres: “Caminho da Fé”.
– Deve passar muitos romeiros por aqui durante a madrugada… como os moradores conseguem dormir com seus cães latindo desse jeito? – perguntou o peregrino ao seu mudo cajado de bambu.
A retomada da caminhada de um peregrino depois de apenas algumas horas de descanso, tempo insuficiente para curar as feridas, é sempre lenta. Só deslancha um tempo depois, quando o corpo aquece. Mas, depois que a dores se vão, o cansaço vem… e a caminhada volta a ser lenta, e demorada. Os doze quilômetros que separam Bom Sucesso de Pinda ficaram mais longos. Eram mais de três da manhã quando o peregrino cruzou o Rio Paraíba do Sul. Parou sobre a ponte e ficou por breves minutos contemplando as sombras e ouvindo o leve murmúrio das águas batendo nas pilastras lá embaixo. Pensamentos sombrios sobrevoaram sua mente. Bastaria soltar o corpo do parapeito!… Daria descanso ao corpo… e a alma! Quais teorias a polícia alimentaria quando encontrassem seu corpo boiando rio abaixo dias depois? Acidente? Assassinato? Suicídio? Desviou os olhos das águas sombrias lá embaixo. O peregrino solitário era um contador de histórias… “A minha história eu mesmo vou contar”, disse ele para o rio, e acabou de atravessar a ponte! Duzentos metros adiante, à esquerda da avenida dividida por um canteiro salpicado de palmeiras, havia um campo de futebol Society circundado por bancos de alvenaria. Um destes banco serviu de cama para o peregrino. Usando como sempre a mochila como travesseiro, estendeu-se no cimento duro. No minuto seguinte estava dormindo na beira do campo deserto. Não dormiu mais porque o frio, acentuado pela proximidade do rio, não deixou. Levantou ainda mais lento e seguiu em frente. Estava tão dolorido e sonolento que não percebeu a plaquinha pregada no poste na esquina da padaria – ainda fechada – poucos metros adiante. “Aparecida” indicava a plaquinha. Vinte minutos depois se viu no centro da cidade silenciosa. Seguia por uma avenida deserta até que, na esquina do quarteirão da frente percebeu uma confusão. Na porta do que parecia ser um barzinho, ou quem sabe um trailer de lanches, várias pessoas trocavam socos e pontapés! Podia ser uma briga, podia ser um assalto… E agora? Enquanto pensava no que fazer, de repente, do nada, brotou uma farmácia 24horas à sua esquerda. Entrou rapidamente e fingiu comprar alguma coisa. De fato, precisava de água. Por entre os galhos das arvores de uma pequena pracinha pode ver que o conflito no quarteirão adiante continuava. Pagou a garrafinha d’água, saiu pela porta lateral e se afastou dali o mais rápido que pode. Por alguns minutos esqueceu as dores nas virilhas, nas juntas, os calos dos pés! Seguiu rumo norte por dois ou três quarteirões e quando se sentiu em segurança, virou à direita e rumou para o leste. Um tempo depois avistou a saída da cidade. Desta vez, numa esquina, viu a plaquinha indicando “Aparecida”. Era por ali que deveria ter vindo, pensou. Perdera mais de meia hora andando a esmo pelo centro de Pinda, aumentando o cansaço, as dores e… passando medo!
Mas nem tudo eram dores e cansaço na caminhada. Era prazeroso testar os limites, sentir a satisfação de superar desafios. A solidão servia para refletir sobre os erros e acertos do passado… e havia a melhor parte: curtir a viagem propriamente dita. Havia muita coisa interessante à margem da via; as pessoas com suas características, comportamentos e culturas de cada lugar; animais agrupados ou dispersos nos pastos e a própria natureza que, sozinha, já proporcionava um espetáculo! Ver o sol se despedir, e a noite cair mansamente até dominar o céu. Sentir a brisa fresca e o sereno suave da noite. Ouvir o canto dos pássaros ou o silencio deles à noite! Enfim… viajar à pé tem uma série de vantagens impossíveis de serem percebidas quando se viaja de carro. Viajar de carro e curtir a natureza em volta é como o garoto gaguinho que tenta mostrar o submarino aos pais… Diz ele: “Olha lá o su… su… su… su… suuu… miuuu!!!
De carro, um percurso de cem metros se percorre em menos de trinta segundos… Se alguém te mostra um colorido tucano que passa batendo asas no céu, quando você olha, ele já passou! A pé, a mesma distância precisa de ao menos três minutos para ser percorrida. Se você ouve o canto de um Bem-te-vi, sem interromper a caminhada você o localiza no topo de um jacarandá ou de um cedro na beira do pasto, curte sua música até o fim e no final da curva pode vê-lo cruzar a estrada para cantar em outros prados. Esse contato real com a vida, usando as energias do próprio corpo para se locomover, era como balsamo para as dores, e enchia a alma do peregrino.
Quando o peregrino passou solitário pelo primeiro posto de combustíveis à esquerda da via, deixando o perímetro urbano de Pinda, a madrugada colocou no céu os primeiros sinais de palidez, indicando que iria desmaiar e sair de cena… dar lugar a um novo dia. Não demorou os primeiros raios do sol surgiram por entre os eucaliptos na beira da estrada. Surgiram tímidos, ressabiados, como quem pede licença para entrar na nossa casa. Mas não tardou se revelou ardido, quente, implacável … um visitante quase cruel! Faltavam ainda quase vinte quilômetros para chegar ao seu destino. Por conta dos perrengues, seriam os vinte quilômetros mais lentos da caminhada do peregrino. Depois do café na pequena Moreira Cesar, já com o sol escaldante, a primeira parada foi – que ironia! – na sombra suave de uma capelinha na beira da estrada, logo depois da histórica figueira velha. Dali até o trevo de Roseira, o peregrino estenderia seu corpo ao longo da via em qualquer espaço que não atrapalhasse o transito de veículos. Gramados, canteiros de trevinhos, beiras de pasto… qualquer lugar virava cama para o peregrino! Sentava, deitava e se passasse de cinco minutos, dormia. A mente estava sã, intacta, cada vez mais saudável, mas o corpo estava depauperado! A partir do trevinho a caminhada ficou ainda mais difícil, mais cansativa, mais dolorida. O corpo exigia descanso. O descanso, no entanto, estava longe, a nove quilômetros dali… nos bancos duros e lisos, porém frescos da suntuosa Basílica. O sol que no dia anterior havia percorrido o espaço entre nuvens, agora dominava o céu, brilhava como nunca. Brilhava e aquecia, e sufocava, e queimava… O asfalto parecia tremer de tão quente, parecia que iria derreter. O capim e os pequenos arbustos na beira da estrada pareciam estar cozinhando. Debaixo do sol escaldante de outubro o peregrino solitário caminhava trôpego apoiado no cajadinho de bambu. Às vezes parecia que iria se desmanchar, se esbodegar no chão… Às vezes parecia dormente, parecia que iria levitar! Dali a uma ou duas semanas, talvez, ao sentar-se na sombra da mangueira para recordar sozinho a viagem iria reclamar para Deus:
“Nem sei como consegui fazer aquele último trajeto… As dores no corpo eram tantas… Pedi tanto Seu apoio e o Senhor não apareceu! Era tanto cansaço que acho que dormi, desmaiei, perdi os sentidos… quando percebi estava entrando na Basílica”.
Uma leve brisa irá farfalhar as folhas da mangueira para dizer:
“… Neste momento, meu filho… eu te carreguei no colo”!
Sim. Muitas vezes durante a caminhada solitária o peregrino foi carregado no colo!
Mas foram seus pés feridos e cansados que subiram as escadas da Basílica de Aparecida no final da manhã daquela quinta-feira. Subiram lentamente, mas resolutos. Quase não sentiam dores. Agora quem estava inebriado, afogados, eram seus olhos… pareciam uma represa prestes a se romper! Era exatamente meio-dia quando ele parou diante da imagem de Nossa Senhora. A represa se rompeu! Uma cachoeira desceu dos seus olhos. Não sabe quanto tempo ficou assim, parado, olhando para a Santa… chorando! Os olhos estavam ali, grudados na imagem, mas viajavam ao passado. Ao passado distante. Ao passado recente. Ao passado das últimas cinquenta e quatro horas desde que saíra de casa na manhã de terça-feira debaixo de uma chuva fina. Sentiu os ligeiros esbarrões de romeiros que passavam ao seu lado, mas continuou ali, contemplando a Mãezinha. Passara frio, fome, sede, calor, medos, dores … para chegar ali! Ficou assim uma eternidade, em silencio olhando para Mãezinha. Aos poucos as lágrimas foram secando… e um sorriso sereno veio iluminar seu rosto.
Três horas depois embarcou no Mercedes da Pássaro Marrom e dobrou a serra da Mantiqueira. Até então nunca havia percebido o quanto era confortável uma poltrona de ônibus! Alimentado, limpo – de corpo e alma – e sem precisar mover as pernas e os pés e sem esfregar as virilhas feridas uma na outra, entregou-se às caricias de Morfeu. Acordou em Itajubá para trocar o Pássaro Marrom pelo Gardênia.
Enquanto esperava o ônibus no terminal rodoviário, peregrino – agora não mais solitário – se pôs a pensar sobre os motivos daquela viagem insólita! Só então se deu conta de que percorrera todo aquele caminho, a pé, sozinho, sem conforto, sem apoio, em buscas de respostas para as dúvidas que o afligiam, mas… Sequer fizera as perguntas! No entanto, sentia-se leve, sereno, tranquilo, como se não tivesse mais dúvidas!
Ao longo da caminhada, o tempo todo a Mãezinha esteve ao lado do peregrino solitário, afagou seus cabelos, beijou-lhe a testa, secou suas lágrimas. Durante aqueles cento e cinquenta quilômetros, quando a fé foi colocada em xeque, seu Filho amparou o peregrino. Quando suas forças se esvaíram, seu Filho carregou o peregrino no colo… – ele não percebeu!
Quando finalmente chegou ao destino, cansado, ferido, emocionado bastou olhar nos olhos da mãezinha para esquecer tudo. Estava feliz por estar ali, diante da mãezinha. Esqueceu o que fora fazer ali… esqueceu de fazer as perguntas… apenas chorou! Deixou as lágrimas lavarem seu rosto, sua alma… Sentiu o olhar suave da Mãe e, sem perceber sentiu a leveza do corpo, a leveza do ser… Ah, seus problemas eram tão pequenos diante do amor filial da mãezinha!
Não se lembrou das perguntas que faria, das respostas que fora buscar… Mas encontrou algo muito maior… Paz!
Paz para encarar os desafios, para esclarecer as dúvidas… e superar os obstáculos que o atormentavam!
Em paz, percebeu então que… As respostas foram dadas a cada passo, ao longo da caminhada!
Uma semana depois conseguiu calçar o sapato no pé direito…